Apresentação
Sarah Munck é doutora em Letras pela UFJF, com área de concentração em Teorias da Literatura e Representações Culturais, e professora do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, onde atua no Núcleo de Línguas. Desenvolve projetos de pesquisa e leitura voltados à literatura contemporânea, especialmente a latino-americana. Autora de O Diagnóstico do Espelho (2023), Sarah convida, neste ensaio, a leitora e o leitor a uma reflexão sensível sobre os modos de perceber e experienciar a poesia no presente. A partir de imagens sugestivas e referências teóricas, ela propõe um deslocamento do olhar para além dos circuitos mais evidentes da produção literária. Trata-se de um convite à abertura, à escuta e à renovação do contato com a arte poética.
A irreverente poesia brasileira contemporânea
A irreverente poesia brasileira contemporânea
Imaginemo-nos sentados à beira da praia em um dia ensolarado. É possível que os braços e o rosto captem o sol de forma contundente. Mas é plausível, também, que nem o percebamos, dado o fulgor do momento.
Nesse caso, uma variável torna-se relevante: o tempo. Depois de um longo dia, já descansados, notamos novas nuances.
Pensemos, pois, a respeito da poesia brasileira contemporânea. Antes, no entanto, é fundamental delimitar o que entendemos por “contemporânea”. Seguindo Giorgio Agamben (2009), o contemporâneo não é simplesmente aquilo que é atual no sentido cronológico, mas aquilo que, estando no presente, mantém um deslocamento crítico em relação a ele, enxergando suas sombras. Para Hans Ulrich Gumbrecht (2015), o contemporâneo é uma experiência de simultaneidade temporal, na qual convivem ressonâncias do passado e forças emergentes. Assim, a poesia “contemporânea” não se reduz a um corte temporal, mas envolve uma tensão constante entre presença e distância, permanência e transformação. Esse ponto é crucial, pois evidencia que o termo é disputado no campo literário e não designa um conjunto estável de obras, mas um espaço de conflito. Desde já, corroboro: façamos esse exercício afastando um pouco o nosso vicioso olhar da corrente principal, ou daquilo que poderíamos denominar mainstream.
Cabe aqui, contudo, problematizar a própria noção de “contemporânea”: não se trata apenas de um marcador cronológico que designa o que é recente, mas de um conceito movediço, atravessado por tensões históricas, estéticas e ideológicas. O “contemporâneo” implica um recorte que, muitas vezes, exclui vozes e práticas que não se alinham aos critérios dominantes de legitimação cultural. Assim, o que se denomina poesia contemporânea pode abarcar tanto a manutenção de certas convenções quanto a subversão radical delas, revelando que a própria categoria é construída e disputada no campo literário.
A respeito desse movimento centrífugo, isto é, ação de afastar-se do centro , Paz (1984) propõe um elemento interessante: a tradição de ruptura, conceito que parece paradoxal, mas que revela um movimento recorrente na história da literatura e da arte. Essa tradição se constitui exatamente a partir de gestos que, ao modificarem o velho, desestabilizam a continuidade estabelecida, promovendo uma ação crítica de descontinuidade e inaugurando novas formas de dizer e estar no mundo. Esse ciclo de negação e reelaboração é inerente ao próprio fazer artístico. Além disso, a ruptura não se configura como uma negação absoluta, mas como uma operação de sentido voltada ao diálogo, seja ele pacífico ou subversivo. Sabe-se, aliás, que toda negação da tradição acaba, inevitavelmente, por gerar outra tradição, e assim sucessivamente.
Nesse contexto, o gesto da descontinuidade atinge diretamente a linguagem, compreendida aqui não somente como meio de expressão, mas como matéria estética e filosófica em constante mudança. É sobre ela que repousa a necessidade de reinvenção, conforme destaca Haroldo de Campos (1997), ao afirmar que romper com a tradição vigente nos permite descobrir poéticas possíveis ou novas possibilidades poéticas. A modernidade, nesse sentido, não se define pela eterna procura do novo, mas por sua essência heterogênea, em que convivem os vestígios do passado e as forças que descentralizam o cânone. A tensão entre o centro e a margem, a permanência e a ruptura configura-se como um campo dinâmico em que o literário se reinventa e abre espaço para a pluralidade.
Por fim, é importante lembrar que Paz (1984) discutiu a tradição da ruptura a partir das experiências da modernidade em consonância com os impasses da contemporaneidade, num verdadeiro jogo de sobreposição temporal e estética. Nesse pano de fundo, observa-se o enfraquecimento de paradigmas e utopias que sustentavam projetos literários de vanguarda, especialmente nas últimas décadas do século XX.
Nesse mesmo horizonte crítico, Siscar (2010) analisa o que chama de crise da poesia como uma ideia constitutiva da modernidade, que acompanha o discurso sobre a poesia desde o século XIX. No que tange às forças delineadoras da modernidade e à chegada do século XXI, o autor menciona o mal-estar teórico diante da conjuntura contemporânea e a consequente dificuldade de sistematização da poesia brasileira recente, que tende a oscilar entre o louvor ao rompimento com o modernismo (visto como matriz hegemônica) e o lamento por uma possível perda de lugar no cenário cultural atual. Essa tensão, além de refletir uma incerteza em relação às formas, aponta para a indefinição das funções da poesia no universo contemporâneo, marcado pelo enfraquecimento das grandes narrativas e pelo fortalecimento da pluralidade de vozes.
Retornemos, pois, à temática em tela (“a irreverente poesia brasileira contemporânea”) e tomemos o vocábulo “irreverente” como aquilo que desafia o status quo estabelecido em manuais, prêmios, grandes companhias e redes sociais.
Nesse ínterim, convido-os a imaginar uma apresentação de jazz. Para admirarmos e compreendermos sua efervescência rítmica, um ouvido atento à improvisação e à ausência de linearidade faz-se necessário. Encontramos, assim, as notas dissonantes germinadoras de contrastes e tensões: sonoridades que, a princípio, geram instabilidade, mas que, incrivelmente, nos afastam da monotonia melódica.
Assim como no jazz, em que a dissonância e a improvisação rompem com a harmonia tradicional e instauram diferentes lugares de escuta, a poesia brasileira contemporânea, principalmente aquela que escapa do mainstream, atua como território de criação, experimentação e ousadia rítmica, semântica e política. Suas notas dissonantes são, pois, formas e fatos que desafiam o enquadramento mercadológico e institucional.
Dando sequência à nossa reflexão crítica, fixemos nossa atenção no não dito, quero dizer, no que ainda não chegou, na dimensão do que resiste a ser enquadrado pelo cursor dominante. Essa literatura, como um bom improviso de jazz, não almeja o conforto, tampouco a resolução. Ela aponta para o espaço poético como algo que ainda não se solidificou, tornando-se, assim, um campo aberto: um lugar que tensiona o cânone e se afirma como caminho legítimo para novas construções de sentido.
Como leitoras e leitores e, quiçá, poetas, estejamos abertos às estranhezas, como se, ao fazê-lo, nos sentássemos nas poltronas do anfiteatro, aguardando as boas-vindas do primeiro violino.
Estejamos atentos não apenas às primeiras notas, mas a toda a orquestra.
Voltemos os olhos para os grupos independentes, para as pequenas e médias editoras, para os circuitos alternativos que, inclusive, alimentam a vitalidade da criação literária.
Conheçamos a potência criadora presente em panfletos, folhetins, livros artesanais, e-books, plaquetes, e outras formas de divulgação poética desprendidas da catalogação oficial e do capital simbólico ou financeiro que, por vezes, soam arbitrários.
Sempre nos lembrando de que a poesia não vem, justo por ser algo que está sempre à deriva ou no porvir.
Até a próxima.
____________________________________________________________________________________________
Diálogos possíveis:
AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Tradução de Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009.
ATTALI, Jacques. Bruit: essai sur l’économie politique de la musique. Paris: Presses Universitaires de France, 1985.
CAMPOS, Haroldo de. O arco-íris branco: ensaios de literatura e cultura. São Paulo: Imago, 1997.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Tradução de Aurélio Guerra Neto et al. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. v. 1.
GUMBRECHT, Hans Ulrich. Depois de 1945: latência como origem do presente. Tradução de Ana Isabel Soares. São Paulo: Editora Unesp, 2014.
SISCAR, Marcos. Poesia e crise: ensaios sobre a “crise da poesia” como topos da modernidade. Campinas: Editora da Unicamp, 2010.
SISCAR, Marcos. De volta ao fim: o poema e a crítica. Campinas: Editora da Unicamp, 2010.
Informações
Esse ensaio também está publicado no Substack da autora: https://sarahmunck.substack.com/Link: https://mondru.com/produto/o-diagnostico-do-espelho/










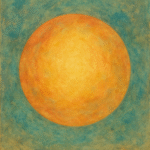

Sem comentários
Deixe um comentário Cancelar