Apresentação
No semiárido brasileiro, a água é poder e a terra é disputa. Em A (Não) Reforma Agrária e o Projeto Pontal, Thiago Henrique Costa Silva disseca como a promessa de modernização através de parcerias público-privadas em Petrolina acabou servindo, paradoxalmente, à exclusão social e à concentração de renda. Esta obra é uma leitura fundamental para entender como instrumentos jurídicos podem travar a justiça no campo, desafiando a narrativa de que a eficiência econômica deve sempre se sobrepor ao desenvolvimento humano e socioambiental. Confira abaixo a entrevista completa com o autor sobre a obra.
Entrevista com o autor do livro A (Não) Reforma Agrária E O Projeto Pontal, Em Petrolina, Pernambuco
- Thiago, seu livro carrega um título provocativo ao falar em uma ‘(Não) Reforma Agrária’. Se você tivesse que explicar para um leitor urbano, que consome as frutas de Petrolina mas desconhece a realidade do campo, qual é a principal ‘ilusão’ que seu livro busca desconstruir sobre o desenvolvimento naquela região?”
Quando eu falo em uma “(não) reforma agrária”, estou chamando atenção para uma ilusão que se consolidou no imaginário urbano. Quem consome as frutas de Petrolina muitas vezes imagina que aquela região vive um processo de desenvolvimento equilibrado. O que a pesquisa revela é o contrário. Há um polo pujante, voltado à exportação, ao mesmo tempo em que milhares de famílias permanecem sem acesso adequado à terra, à água e a políticas públicas. A modernização irrigada cria riqueza, mas essa riqueza não é distribuída. A ilusão é acreditar que a fruticultura irrigada resolve os problemas sociais do território, porquanto o que se observa é um modelo que concentra benefícios e reproduz desigualdades históricas.
- Historicamente, aprendemos que o problema do Nordeste é a falta de água. No entanto, sua pesquisa sugere que, no modelo do agrohidronegócio, a água não falta, mas sim é ‘exportada’ em forma de commodities enquanto as populações locais continuam sedentas. Como sua obra nos ajuda a entender que a escassez, hoje, é mais política do que climática?”
O imaginário nacional sempre associou a crise do Nordeste à falta de água. Esse diagnóstico foi alimentado por décadas de políticas públicas centradas no combate à seca, como se o problema fosse exclusivamente natural. O que a pesquisa demonstra é que essa leitura não se sustenta mais. No modelo do agrohidronegócio, a água existe. Há barragens, canais, estações de bombeamento e uma infraestrutura de irrigação que foi financiada pelo Estado ao longo de décadas. Portanto, o problema não é físico, é distributivo.
A pergunta que realmente importa não é quanto de água há, mas quem tem acesso a ela e para qual finalidade. Hoje, grandes empresas utilizam volumes expressivos de água para sustentar a exportação de frutas e outras commodities. Essa água embutida na produção agrícola é literalmente exportada para o mercado internacional. Enquanto isso, as populações locais convivem com poços rasos, baixa qualidade da água disponível e dificuldades elementares de abastecimento.
Quando confrontamos esses dois cenários, percebemos que a escassez atual é uma construção política. Ela resulta de decisões que organizam o território segundo prioridades econômicas e não segundo direitos sociais. A água, que deveria ser tratada como um bem público e um direito humano, acaba sendo gerida como insumo de mercado. Por isso, está correta a provocação feita no enunciado da pergunta: a escassez, hoje, é muito menos climática e muito mais resultado de escolhas institucionais que privilegiam o agronegócio e marginalizam as comunidades rurais.
- Vivemos uma era em que a privatização e as parcerias (PPPs) são vendidas como a solução mágica para a ineficiência do Estado. Ao analisar o caso do Projeto Pontal, você conclui que essas parcerias serviram mais para transferir patrimônio público para grupos privados do que para resolver problemas sociais. Que alerta seu livro deixa para quem acredita cegamente que o ‘parceiro privado’ é sempre a melhor opção para gerir recursos públicos?
Essa pergunta não tem uma resposta simples, porque as relações entre Estado, mercado e sociedade são próprias do capitalismo e não devem ser lidas sob um prisma maniqueísta, como se houvesse um herói e um vilão. O que a pesquisa evidencia é que, no caso do Pontal, o mito da ineficiência estatal e da suposta pujança desenvolvimentista do setor privado foi usado para manipular a opinião pública, inclusive dos pequenos proprietários das terras do projeto. A PPP e a CDRU foram apresentadas como soluções modernas, capazes de superar a lentidão do Estado e impulsionar a fruticultura irrigada. O que se observou, porém, foi um processo que favoreceu grandes grupos empresariais, transferiu infraestrutura pública de alto valor e não conseguiu oferecer as contrapartidas sociais prometidas.
As famílias assentadas continuaram à margem da política. Os conflitos se intensificaram e a desigualdade se aprofundou. Por isso, o alerta que deixo é o seguinte: quando se adota a narrativa automática de que o setor privado é sempre mais eficiente, o Estado abdica de seu papel constitucional de planejar, regular e promover direitos. E, sem esse protagonismo estatal, especialmente em territórios marcados por desigualdade histórica, a política pública tende a fracassar. O Pontal deixou claro que eficiência não se mede apenas pelo investimento privado, mas pela capacidade de reduzir desigualdades e incluir os sujeitos que vivem no território.
- Durante sua investigação, você não se limitou aos documentos; você realizou visitas in loco ao Projeto Pontal e presenciou as ocupações de movimentos sociais. Como o contato direto com a realidade dessas famílias assentadas — que resistem ao modelo imposto — alterou ou fortaleceu a percepção jurídica e teórica que você tinha antes de pisar no território?
As visitas ao Pontal foram determinantes, porque revelam camadas da realidade que nenhum documento mostra. A teoria é fundamental, mas ela é sempre abstrata. No território, o contraste salta aos olhos. De um lado, áreas altamente produtivas, com irrigação contínua e investimentos empresariais vultosos. De outro, famílias que vivem com escassez de água, com baixa renda e com acesso limitado à infraestrutura. Ver isso presencialmente provoca uma inflexão no olhar jurídico. Eu percebi com mais clareza que a questão agrária não é apenas um debate normativo ou acadêmico. Ela é vivida diariamente por pessoas que têm suas vidas profundamente afetadas por políticas públicas que não as consideram como sujeitos.
- Seu livro transita entre o Direito, a Geografia e a Sociologia. Para um profissional que trabalha com gestão pública ou para um ativista social que luta por direitos humanos, qual é a lição prática mais valiosa que a experiência fracassada da PPP no Pontal oferece sobre como não desenhar uma política pública?
A principal lição que eu tive é que não se constrói política pública ignorando a realidade do território e os sujeitos que o compõem. A PPP do Pontal foi concebida a partir de um diagnóstico equivocado e de uma visão excessivamente economicista. Não houve participação social vinculante. Não houve integração efetiva da agricultura de base familiar e camponesa. O desenho da política partiu do pressuposto de que a lógica de mercado, por si só, resolveria as desigualdades. O resultado foi o oposto.
Para gestores públicos, a experiência mostra que eficiência não é sinônimo de privatização. Eficiência envolve incluir quem historicamente foi excluído, garantir segurança jurídica aos pequenos, assegurar acesso à água (bens comuns), promover assistência técnica e criar condições para o exercício de direitos. Em outra perspectiva, a ausência de participação gera (re)existência e luta por direitos, o que evidencia, de modo pragmático, que o desenho institucional que molda as políticas precisa dialogar com as territorialidades que pretende modificar.
- Você contrapõe o modelo neoliberal (focado no crescimento econômico a qualquer custo) ao modelo socioambiental (que coloca a sociedade e a natureza no centro). Considerando o cenário atual de desmonte de políticas agrárias que você descreve, o que seria necessário para que o Brasil finalmente adotasse esse modelo socioambiental? Há espaço para otimismo ou a resistência é o único caminho?
O Brasil só adotará um modelo socioambiental quando recolocar o Estado no centro do planejamento das políticas agrárias – aqui eu falo de estabelecer políticas de Estado, permanente, e não políticas de governo, que mudam a cada novo mandato eletivo. Isso envolve enfrentar a concentração fundiária, democratizar o acesso à terra, reconstruir a assistência técnica pública, retomar investimentos na agricultura familiar, reconhecer territórios e subordinar a lógica de mercado aos objetivos constitucionais. A Constituição já sinaliza esse caminho ao colocar a dignidade da pessoa humana, a função socioambiental da propriedade e o meio ambiente ecologicamente equilibrado como princípios.
Mas a realidade recente evidencia a dificuldade dessa transição. Acabamos de passar pela COP-30 e o que se observou foi justamente a tensão permanente entre as agendas ambientais e territoriais e os interesses econômicosOs compromissos assumidos internacionalmente esbarram em práticas internas que seguem estruturadas no uso intensivo do território e dos bens naturais, legitimados enquanto meros recursos, para sustentar o agronegócio ou o mineronegócio exportador. Esse descompasso revela que o discurso ambiental avança mais rápido que as práticas institucionais e que a pressão econômica ainda molda grande parte das decisões do Estado.
Mesmo assim, eu não trabalho com um pessimismo paralisante. Ao contrário, adoto um otimismo crítico. A resistência dos movimentos sociais, a força normativa da Constituição e os conflitos que emergem no território mostram que existe demanda social por outro modelo de (des)envolvimento. Não há espaço para ingenuidade, mas há espaço para transformação. Essa mudança depende de decisão política, participação social vinculante e, sobretudo, do reconhecimento de que (des)envolvimento não pode ser construído às custas da natureza e da exclusão das populações rurais.
- Ao fechar seu livro, que mudança de mentalidade sobre a relação entre ‘Estado, Mercado e Terra’ você espera ter provocado na consciência do seu leitor?
Eu reconheço que mudar mentalidades não é simples. As relações entre Estado, mercado e terra no Brasil estão assentadas sobre séculos de práticas, interesses e estruturas de poder. Não se altera isso de um dia para o outro. Por isso, que eu busco com o livro não é oferecer uma resposta definitiva, mas provocar reflexão. Quero abrir fissuras no modo como pensamos o (des)envolvimento rural, a propriedade e o papel do Estado.
Se você, leitor, terminar a obra questionando a ideia de que a terra é apenas um ativo econômico, considerarei a pesquisa transformadora. Se você perceber que políticas públicas não são neutras e que carregam projetos de sociedade, também já teremos dado um passo importante. E, sobretudo, se enxergar que existem outras possibilidades de organizar o território e de pensar (des)envolvimento e acesso à direitos (no plural e a partir dos sujeitos), então o livro terá cumprido sua função.
Por fim, como costumo dizer aos discentes que frequentam minha aula: não tenho a pretensão de converter ninguém a uma visão única. O que espero é estimular novas leituras, abrir caminhos para interpretações críticas e incentivar um olhar mais atento às pessoas que vivem o território. A mudança começa quando reconhecemos que existem alternativas e que o modelo atual não é inevitável. Se o livro conseguir despertar essa sensibilidade, já terá contribuído de forma significativa.
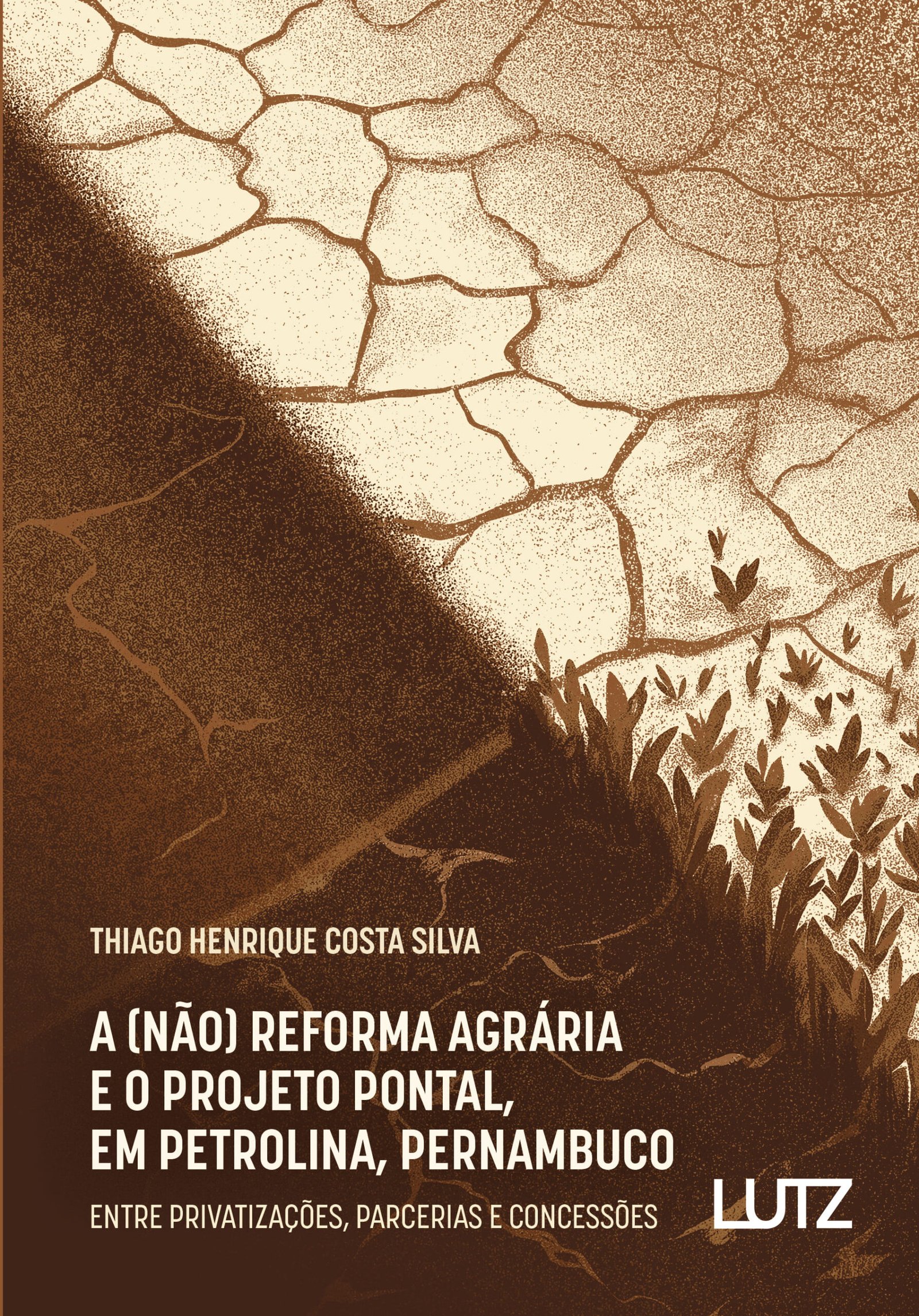









Sem comentários
Deixe um comentário Cancelar